Publicado 12/02/2023 01:00
Independente de quem ocupe a presidência da República, é reconfortante para qualquer brasileiro ver seu chefe de Estado viajar para o país mais poderoso no mundo, ser recebido com honras e — acima disso — ter uma agenda relevante e convergente para discutir com o anfitrião. Uma agenda como a que pautou as conversas da sexta-feira passada, em Washington, do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com o mandatário dos Estados Unidos, Joe Biden.
Do ponto de vista prático, o encontro não provocou qualquer mudança na relação entre os dois países — e o único resultado concreto foi um comunicado conjunto em que os dois presidentes mencionam a intenção de trabalhar em conjunto pela democracia e pela paz e de agir em defesa da Amazônia e do meio ambiente. Do ponto de vista simbólico e político, porém, o resultado não poderia ter sido melhor. O mais importante de tudo foi a abertura de um canal de entendimento que pode trazer vantagens importantes para os dois países.
Isso não é pouco. Quaisquer que venham a ser os resultados concretos obtidos a partir desse encontro, a simples presença de Lula na Casa Branca pouco mais de um mês depois de sua volta à presidência já é suficiente para alimentar o otimismo em relação a um ponto sobre o qual a administração brasileira tem dado provas sucessivas de amadorismo e de fragilidade nos últimos anos. Tratam-se das relações internacionais e da necessidade de consolidar uma diplomacia comercial que leve em conta os objetivos de longo prazo do país — e não os interesses do governo do momento.
Esse, aliás, tem sido um pecado que os governos do Brasil têm cometido com frequência. Com raríssimas exceções ao longo da história, sempre predominou nos altos escalões da República a ideia de que Brasil conta com um mercado interno forte o suficiente para assegurar seu desenvolvimento e que os países mais avançados não passam de predadores que devem ser vistos com desconfiança. Eles só estão interessadas em explorar os recursos nacionais em troca das migalhas que oferecem em troca das riquezas que desejam levar embora.
PRAGMATISMO RESPONSÁVEL
PRAGMATISMO RESPONSÁVEL
Essa visão é completamente equivocada: não há no mundo um único país que tenha se desenvolvido sem contar com bons parceiros internacionais. Países como o Japão e a Coréia do Sul não teriam se transformado nas potências que são hoje sem o suporte dos Estados Unidos. Os países da Europa não teriam conseguido evitar a decadência econômica que se desenhava no final dos anos 1980 caso não tivessem se unido num bloco que consolidou a parceria entre eles. O corpo diplomático brasileiro sabe disso e, em um momento sensível da história orientou suas ações pelo princípio do “pragmatismo responsável”, que procurava colocar os interesses estratégicos do país acima da ideologia de seus governantes.
Em novembro de 1975, a nação africana de Angola deixou de ser uma colônia portuguesa e declarou sua independência sob um governo de orientação comunista. Mesmo estando, na época, no auge dos governos de direita do ciclo militar de 1964, o Brasil foi o primeiro país do mundo a se manifestar. Antes que qualquer país do bloco socialista agisse, reconheceu a independência, estabeleceu relações diplomáticas e, pouco depois, nomeou o diplomata Rodolpho Godoy de Souza Dantas como primeiro embaixador brasileiro em Luanda. Não agiu dessa forma por simpatia ao presidente Agostinho Santos, que acabava de tomar o poder. Fez o que fez porque queria construir uma parceria importante e abrir mercado para suas empresas. O resultado foi extremamente positivo.
A lição de pragmatismo dada pelos militares daquele momento não foi seguida por alguns dos governos eleitos pelo voto direto e, em determinadas ocasiões, o Brasil passou a pautar suas relações internacionais a partir da opção ideológica de quem estiver ocupando a cadeira de presidente. Isso aconteceu especialmente durante os governos de Dilma Rousseff, que detestava tudo que viesse dos Estados Unidos e de seus principais aliados, e de Jair Bolsonaro, que se curvava a qualquer iniciativa de seu amigo, o ex-presidente americano Donald Trump.
É aí que está o centro do problema. A relação do Brasil com qualquer país do mundo não dever ser construída na base de admiração nem de antipatia. Ela deve ser permanente e alicerçada sobre interesses comuns. No caso dos Estados Unidos, observar esse princípio é ainda mais importante.
O tamanho da economia, a presença internacional de suas empresas, a liderança em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, o papel decisivo nas decisões internacionais, e — por último, mas não menos importante — as afinidades históricas e logísticas entre os dois países, indicam que o Brasil tem muito mais a ganhar do que a perder se optar por manter relações sólidas — de Estado, e não de governo — com os Estados Unidos. E as circunstâncias que cercaram o encontro de sexta-feira entre Biden e Lula são a prova de que isso é perfeitamente possível.
TEMAS PREDOMINANTES
O tamanho da economia, a presença internacional de suas empresas, a liderança em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, o papel decisivo nas decisões internacionais, e — por último, mas não menos importante — as afinidades históricas e logísticas entre os dois países, indicam que o Brasil tem muito mais a ganhar do que a perder se optar por manter relações sólidas — de Estado, e não de governo — com os Estados Unidos. E as circunstâncias que cercaram o encontro de sexta-feira entre Biden e Lula são a prova de que isso é perfeitamente possível.
TEMAS PREDOMINANTES
A pauta do encontro não foi elaborada em cima da hora nem foi motivada, como a imprensa brasileira deixou transparecer na cobertura da viagem oficial, pela infeliz coincidência entre a invasão do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, e os atos de vandalismo vistos no Brasil em 8 de janeiro deste ano. O convite de Biden foi transmitido a Lula no dia 5 de dezembro do ano passado, quando o presidente, recém-eleito, recebeu em Brasília o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. Com 46 anos (e considerado jovem para os padrões do governo dos Estados Unidos), Sullivan, que trabalha com Biden desde o tempo que ele era o vice-presidente de Barack Obama, e é um dos auxiliares mais próximos do presidente americano.
É evidente que, a partir dos acontecimentos de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro saíram pela Praça dos Três Poderes quebrando tudo o que encontraram pela frente, a discussão sobre temas de natureza política ganhou mais relevância no encontro do que os assuntos econômicos. Seja como for, o principal propósito objetivo foi alcançado. Mais do que a assinatura de qualquer acordo — e até mesmo do que a prometida adesão dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia — o que importou mesmo foi o estabelecimento de um canal de diálogo que, se for explorado em toda sua potencialidade, será extremamente útil para os dois países.
Tomara que esse canal se mantenha desobstruído e que leve os dois países a enfrentar e resolver os problemas que de fato interessam em suas relações bilaterais. É bom insistir neste ponto para que ninguém saia por aí dizendo que a simples chegada de Lula ao Planalto já foi suficiente para devolver ao Brasil o protagonismo que ele um dia teve em matéria de política internacional. Há problemas para serem enfrentados e obstáculos a serem resolvidos antes que o Brasil recupere o tempo e o espaço que perdeu durante o tempo em que foi reduzido à condição de “anão diplomático”.
As questões tratadas em Washington na sexta-feira da semana passada, por mais visibilidade e importância que tenham adquirido nos últimos tempos, são de solução relativamente simples diante da pauta que realmente interessa. O que se viu ali foi apenas o primeiro passo de uma caminhada que tende a ser longa e que exigirá do corpo diplomático brasileiro uma boa dose de esforço, pragmatismo e habilidade para garantir ao país as vantagens que pode obter num momento em que sua economia precisa voltar a crescer sob novas bases. Para tirar o maior proveito possível da relação entre os dois países, a diplomacia brasileira terá que cumprir uma pauta diferente das que vem cumprindo ao longo de praticamente todo o Século 21.
O Brasil tem muito a ganhar caso se aproxime dos Estados Unidos de forma madura, olhando para seus interesses de longo prazo. Os dois países têm uma extensa pauta de interesses comuns, mas, também, uma lista robusta de contenciosos que precisam ser resolvidos de forma descontaminada de qualquer interferência ideológica. No campo dos interesses comuns, o destaque é para o incrível potencial que se abre neste momento em que o mundo vive a transição rumo a uma matriz de energia mais limpa e sustentável.
Uma aliança estratégica que coloque as potencialidades do Brasil nesse campo para andar lado a lado com a indiscutível capacidade dos Estados Unidos no desenvolvimento de novas tecnologias pode gerar benefícios para os dois lados. Há outros pontos a serem explorados. Uma parceria dos dois países pode transformar o Brasil num polo importante no desenvolvimento de semicondutores, na evolução da indústria 5.0 e em uma série de pontos vitais neste momento em que tanto o Brasil precisa voltar a crescer quando os Estados Unidos precisam de aliados comerciais na disputa que travam com a China pela liderança da economia global.
O capítulo dos contenciosos toca num ponto sensível para as economias dos dois países. Trata-se do agronegócio. Brasil e Estados Unidos são os maiores produtores de alimentos do mundo e competem em muitos aspectos. No auge de sua amizade com Bolsonaro, Donald Trump não hesitou em fechar com a China um acordo bilionário que atingia em cheio os interesses do Brasil.
Para por fim a um contencioso comercial importante, a China se comprometeu em aumentar em US$ 19,5 bilhões suas importações de soja dos Estados Unidos — prejudicando, com isso, os exportadores brasileiros. Ou seja: em muitos momentos, a força que os fazendeiros americanos exercem junto aos governos democratas ou republicanos funciona como uma espécie de barreira aos interesses brasileiros. Isso tem impedido, por exemplo, que o etanol brasileiro tenha sua entrada facilitada nos Estados Unidos e criado uma série de barreiras não tarifárias para que os produtos nacionais tenham acesso ao maior mercado consumidor do mundo.
Enquanto isso, no Brasil, muita gente de esquerda continua criticando o agronegócio sem saber que, ao fazer isso, está beneficiando os interesses dos fazendeiros americanos. Não é nada, não é nada, isso apenas uma prova do quanto é importante deixar de lado as ideologias e os preconceitos para transitar com sucesso no complicado mundo da diplomacia comercial.
Leia mais
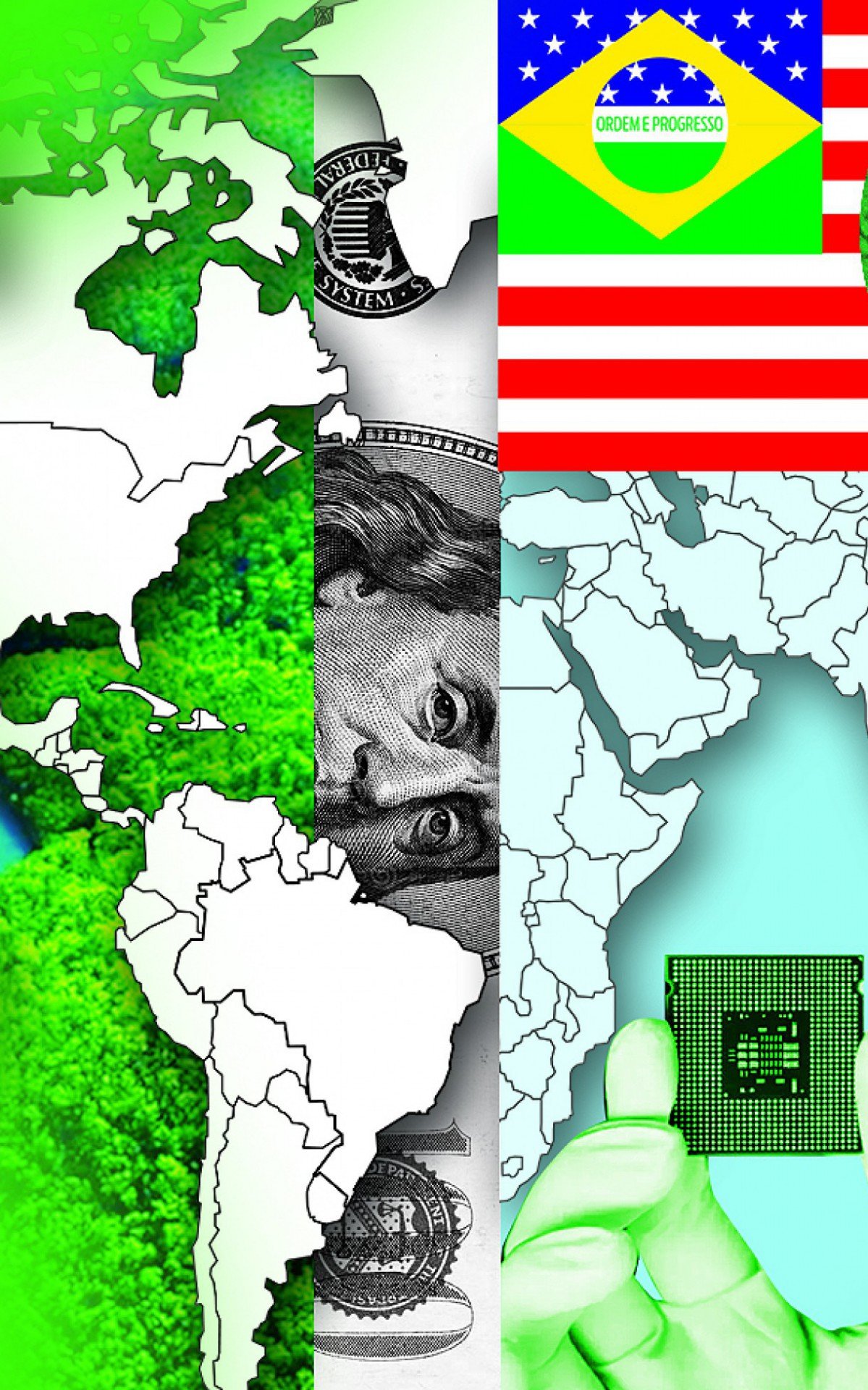
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.