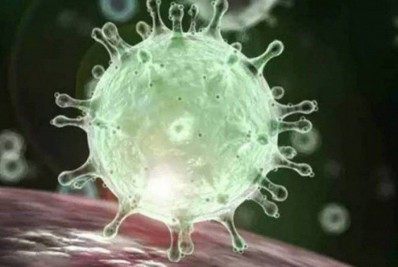Rio - Na manhã desta quarta-feira, dois ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, entraram em seu antigo colégio, abriram fogo contra alunos e funcionários e mataram oito pessoas antes de se suicidar. O episódio choca a sociedade, lembra o massacre em uma escola em Realengo, em 2011, e se soma a uma grande quantidade de casos semelhantes nos Estados Unidos, onde o acesso a armas é facilitado, e também em outros lugares do mundo.
A professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Flora Daemon, estuda o tema desde 2008. Em 2015, ela publicou o livro "Sob o signo da infâmia: das violências em ambientes educacionais às estratégias midiáticas de jovens homicidas/suicidas", em que se dedica a analisar episódios nos Estados Unidos, Brasil, Finlândia, França.
Para Flora, a motivação dos atiradores não envolve monstruosidade, tampouco loucura. "Ela se baseia na cultura da violência, nos discursos de ódio, na associação da masculinidade com signos bélicos, com instituições de ensino despreparadas e com o descaso".
Segundo a pesquisadora, o Brasil precisa refletir se quer se tornar "os Estados Unidos das centenas de vítimas de armas de fogo em escolas e universidades", ou "o Brasil em que discutimos temas complexos nas salas de aula, nos dedicamos ao enfrentamento ao bullying e pensamos o papel de cada um de nós na formação de um futuro melhor para nossas crianças e jovens".
"Não me parece razoável que crianças e jovens vejam mais sentido em matar e morrer do que viver", afirma ela. "Essa contradição precisa ser objeto de nossa reflexão urgente".
Flora falou sobre o episódio em Suzano e o papel do colégio, dos pais e da imprensa em casos como esse, além de sua relação com episódios semelhantes no país e no mundo.
O que motiva esse tipo de crime e o que torna um jovem mais suscetível a cometê-lo?
Há muitas formas de contar essa história. A mais comum e lamentável associa os jovens criminosos à excepcionalidade, à loucura ou à monstruosidade. Eu não compactuo com essa interpretação porque honestamente não acho que dê conta. Pesquiso crimes de homicídio e suicídio em escolas e universidades do Brasil e do mundo desde 2008 e o que tenho percebido é que assentar a responsabilidade apenas nos sujeitos que puxam o gatilho é, de certa forma, enxugar gelo. É preciso perceber o ambiente em que isso ocorre. Não me parece casual a escolha de uma instituição de ensino - que deveria ser o lugar da criação, do aprendizado e do acolhimento das diferenças - como palco para um evento de violência explícita.
O que posso afirmar é que quanto mais as escolas, as famílias e a sociedade se desimplicarem e deslocarem a responsabilidade apenas para os jovens criminosos, mais e mais casos surgirão em todos os cantos do país. O caso de Suzano, assim como o de Realengo, são a faceta visível de uma violência cotidiana que irrompe e nos demanda pensar sobre o que queremos ser. É preciso fazer o dever de casa: as escolas precisam ser palco para as discussões mais complexas e não o lugar da interdição e da censura. Os professores precisam de amparo e qualificação para lidar com o conflito visível e aquele que é interpretado muitas vezes como uma "brincadeira inofensiva" e cotidiana. E nós, pais ou não, precisamos nos pensar como parte desse todo que está conformando ambientes que deveriam proteger e estimular crianças e jovens.
Qual a responsabilidade e o papel da escola? De que forma ela pode identificar situações que podem culminar em um ataque e atuar na prevenção dele?
A escola precisa ter coragem de relembrar seu papel fundamental. Não se trata de conter e de administrar alunos cujas complexidades são incontestáveis durante o período letivo. Ela é formativa e deve ser humanista por princípio. E isso significa dizer que ela precisa se responsabilizar por processos difíceis como a tematização de assuntos que, muitas vezes, a sociedade evita ou censura. Uma escola que estimula, cria, age sobre os conflitos cotidianos de maneira propositiva e cuidadosa e promove lembranças afetuosas tende a não ser palco de episódios de violência. Não se trata de monitorar alunos, mas de conhecê-los e estimular o que há de melhor todos eles.
E os pais? Qual a responsabilidade deles?
Na minha opinião os pais não são, de um modo geral, o maior problema. Se fossem, a arma seria apontada em direção à família e esses casos nos mostram outra coisa. Evidentemente que eles têm um peso formativo muito grande. Mas eu diria que tem mais relação com a falta de diálogo e um tempo de qualidade, do que efetivamente uma revolta.
Quais as principais semelhanças entre os episódios no Brasil, como o de Suzano e o de Realengo, com os que aconteceram em outros lugares do mundo?
Eu me dediquei a analisar episódios similares nos Estados Unidos, Finlândia, França e Brasil e percebi que não somente há uma similaridade entre os episódios como há, também, recorrentemente, alusões explícitas aos casos anteriores como uma espécie de repetição que visa a inspiração de novos futuros homicidas suicidas. Notei que quase sempre os jovens perpetradores, aqueles que matam e morrem, fazem alusão explícita aos casos anteriores em produções midiáticas (vídeos, fotos, games, trilhas sonoras e animações) e buscam "inspirar futuros outros casos". Há uma conexão entre eles: e ela não está ancorada na excepcionalidade da "loucura" ou da "monstruosidade". Ela se baseia na cultura da violência, nos discursos de ódio, na associação da masculinidade com signos bélicos, com instituições de ensino covardes, despreparadas ou censuradas, com interditos e com o descaso.
Existe algum risco de contágio? De que esse casos possam gerar outros, como parece acontecer nos Estados Unidos?
Seria irresponsabilidade minha, depois de anos estudante o tema, dizer que não há riscos. Há sim. Mas procuro ver esse complexo, difícil e doloroso momento como uma triste oportunidade para nós, enquanto sociedade, fazermos o dever de casa: Devemos nos implicar na formação humanística de nossos jovens e crianças. Vamos nos dedicar a eles, não com olhos de desconfiança, mas com a honestidade que educadores precisam ter. O processo pedagógico se completa com o aluno. Ele é parte fundamental dessa história.
O que você acha da cobertura midiática? Acha que a maneira como a imprensa noticia, e o impacto da cobertura na sociedade, podem aumentar a possibilidade de contágio?
No meu livro eu discuto sobre essa ideia de proliferação, contágio e estímulo. Precisamos estar atentos porque crianças e jovens são sujeitos em formação e, muitas vezes, podem entender que suas dores e inseguranças são definitivas e inevitáveis. Não são. A vida é vasta e pode e deve ser melhor. Por isso pautar pelo afeto, pelo cuidado, pelo respeito às singularidades e pela tolerância das diferenças é sempre o melhor caminho. E, nesse sentido, a família e escola são fundamentais, é claro, mas é preciso também implicar os meios de comunicação nesse processo. Como pesquisadora, professora de Comunicação, de Ética e de Cidadania, vejo que a forma como tratamos esse tema de um modo geral precisa ser problematizada. Até porque os perpetradores entendem a dinâmica da mídia, percebem que seu crime não poderá ser silenciado justamente pelo caráter espetacular. Por isso é que afirmo que, nesses casos, pra eles, tão importante quanto matar e morrer, é entender a dinâmica da mídia e, intervir, usá-la para passar sua mensagem e inspirar novos crimes, como uma espécie de legado lamentável.
A questão é: diante da impossibilidade de não narrar jornalisticamente, é necessário pensar em como narrar. As oposições simplistas (eles, os loucos, nós, as vítimas) só ajudam a fomentar o problema. Censurar os temas difíceis, como muitos têm proposto, não tem dado certo na escola, nas casas e, também não dará nos discursos jornalísticos. E não basta narrar o episódio e passar adiante para o próximo tema que irá consternar o país. É preciso que nos pensemos, todos, como parte importante de uma engrenagem complexa que precisa de nossa reflexão crítica e de nossa implicação política e humana.
Qual o impacto da facilitação do acesso às armas? Políticos que compõe a Bancada da Bala, como o senador Major Olímpio (PSL-SP) e o deputado federal Capitão Augusto (PR-SP), afirmaram que o episódio em Suzano poderia ter sido evitado se algum professor tivesse uma arma.
Há um ano, em março de 2018, meio milhão de jovens se organizaram em centenas de cidades dos Estados Unidos, na chamada Marcha por nossas vidas, numa mobilização contra as armas de fogo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como a gente sabe, é favorável à facilitação do acesso às armas.
Aqui no Brasil a gente está num momento muito preciso para pensar sobre o que queremos nos tornar nos próximos tempos: os Estados Unidos das centenas de vítimas de armas de fogo em escolas e universidades, ou o Brasil em que discutimos temas complexos nas escolas, nos dedicamos ao enfrentamento ao bullying e pensamos o papel de cada um de nós na conformação de um futuro melhor para nossas crianças e jovens.
A arma, a cultura da violência, os discursos de ódio muitas vezes propagados por figuras políticas emblemáticas do país não têm dado certo. A pergunta é: quantas vidas mais precisaremos perder para nos implicarmos, todos, na construção de um futuro de paz e mais justo?
*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes