Nuno27agoARTE KIKO
É preciso ampliar a forma de encarar esse fato — até porque, o assunto é sério demais para continuar sendo visto apenas por seus efeitos e não por suas causas. Prosseguindo com as perguntas, aqui vão as duas últimas: será que a Carta Magna brasileira, da qual os ministros são os guardiões, se mantém coerente com a intenção daquelas que a assinaram em 1988? Ou será que o excesso de poder que os ministros são acusados de concentrar em suas mãos não decorre justamente dos puxadinhos oportunistas que os
parlamentares foram introduzindo ao longo dos 35 anos de vigência do texto?
INDEFINIÇÃO PERMANENTE — São apenas dúvidas — mas o Brasil não perderia nada se os parlamentares e os integrantes do poder Executivo também parassem para refletir sobre a maneira com que vêm exercendo suas funções. Ou melhor, o país ganharia caso a sociedade se pusesse a reparar nas atitudes de todos os poderes e passasse a exigir que cada um se mantivesse no seu quadrado. Isso mesmo! Numa democracia, o Legislativo faz as Leis, o Executivo as põe em prática e o Judiciário se certifica de que estão sendo aplicadas da forma correta. No Brasil, porém, um poder está sempre se achando no direito de fazer o que é da competência do outro e o resultado dessa postura é a confusão que está aí.
Por aqui os integrantes do Poder Legislativo querem cuidar da execução orçamentária e, portanto, governar. É o que prova essa aberração chamada "emenda parlamentar", que tira do governo e transfere para o Legislativo o poder de decidir onde, quando e como o dinheiro do povo será gasto. O poder Executivo, por sua vez, tem se achado no direito de julgar e condenar os que não se guiam por sua cartilha — papel que deveria caber exclusivamente ao Judiciário. No meio dessa confusão, acaba recaindo sobre o Judiciário o papel de suprir as ausências dos outros dois.
Essa indefinição sobre o papel que cabe a cada poder tem gerado uma série de situações difíceis de entender à luz dos fundamentos da democracia. Uma delas, que tem intrigado muita gente, diz respeito à postura dos partidos políticos. Numa democracia, partidos são agrupamentos que representam setores da sociedade identificados pela mesma ideologia, pelos mesmos valores e pelos mesmos interesses. No Brasil, eles parecem ter se afastado dessa função para se tornar algo mais parecido com armazéns de secos e
molhados, onde suas posições são negociadas a preços de ocasião, como se fossem mercadorias. E, nessa sanha de estar sempre trocando votos no Congresso por postos no ministério — como seus líderes já não têm o pudor de disfarçar —, eles acabam deixando um espaço enorme para que o Judiciário entre em cena para por ordem da casa.
Quer um exemplo de como os partidos vêm funcionando? Vamos lá: nas eleições do ano passado, o Partido Progressista, PP, se dirigiu aos eleitores como oposição ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cobriu de críticas do início ao fim da campanha. Veio a posse do governo e o partido engrossou a fileira da oposição. Com essa posição, indicou seis deputados identificados com o agronegócio para representar a legenda na CPI encarregada de investigar os crimes e desvios do Movimento dos Sem Terra. O tema, como se sabe, é incômodo para o governo — e o objetivo da CPI não é outro senão o de constranger os apoiadores de Lula.
A comissão vinha realizando seu trabalho quando, de uma hora para outra, o governo acena para o PP com a possibilidade de uma vaga no ministério. A vaga seria ocupada pelo deputado maranhense André Fufuca. Antes que o convite se consumasse, o partido quis fazer um gesto de boa vontade e mostrar que, agora, estava com Lula até debaixo d’água. Então, substituiu os parlamentares que havia indicado para a CPI por outros que pareciam dispostos a dizer que o MST é uma vítima da injustiça social e todas essas lorotas que se fala a respeito dessa organização.
A questão é que uma semana se passou e nada de Fufuca ser nomeado. Passou-se mais uma semana e o deputado, que já agia e falava como ministro, continuou sem o posto. Na quinta-feira da semana passada, como a nomeação não saiu, o coerente PP disse que vai devolver os deputados afastados a seus postos da CPI. Ou seja, o partido voltará a ser oposição a menos que Fufuca se torne ministro e tenha um monte de dinheiro público para gastar da maneira que lhe parecer mais conveniente.
SOLUÇÕES POLÍTICAS — O que essa história tem a ver com o tema de discussão proposto neste artigo? Tudo! A função mais nobre de um partido político numa democracia é a de representar interesses e, em nome deles, negociar soluções políticas para situações onde há divergência de opiniões. No Brasil, não tem funcionado assim.
Os partidos por aqui parecem tão preocupados em obter vantagens com suas ações que, ao se deparar com fatos que deveriam ser enfrentados e resolvidos com base na articulação política, acabam empurrando a solução para o Judiciário. E, ao agir dessa maneira, abrem espaço para que os juízes tenham a palavra final sobre temas que, por definição, seriam de sua competência.
Um exemplo gritante dessa situação foi o processo que resultou na cassação do ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol. Eleito por 344.917 cidadãos paranaenses, Dallagnol teve sua candidatura contestada pela federação partidária formada pelo PT e pelos nanicos PV e PcdoB, com a ajuda do inexpressivo PMN. Para encurtar a história, o Tribunal Superior Eleitoral acolheu a denúncia e cassou o mandato de Dallagnol. Não se discute aqui as posições políticas nem a trajetória profissional de Dallagnol.
Também não interessa saber se a candidatura do ex-procurador da operação Lava Jato — que havia sido acolhida e considerada legal pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná — estava 100% em ordem. O que se discute é que, ao aceitar sem discussão a decisão do TSE, a Câmara abriu mão de uma de suas prerrogativas mais importantes: a de zelar pela própria integridade e independência.
"Não cabe à Câmara, ou a qualquer de seus órgãos, discutir o mérito da decisão da Justiça Eleitoral. Assim, não se trata de hipótese de em que a Câmara esteja cassando mandato parlamentar, mas exclusivamente declarando a perda do mandato, conforme já decidido pela Justiça Eleitoral", disse a nota lacônica com que o Legislativo simplesmente abaixou o cangote diante da decisão do TSE. A questão é: por que o PT, o
PCdoB, o PV e o PMN foram se queixar na Justiça sobre um tema que deveriam ter resolvido politicamente? Será que a forma como agiram, ao invés de significar uma vitória por lhes permitir se livrar de um adversário com quem tinham contas a ajustar, não terá sido uma demonstração da fraqueza e da incapacidade de derrotar seus inimigos no voto e no plenário?
TRATAMENTO DESRESPEITOSO — É lógico que esse tema é complexo e merece ser tratado com uma profundidade bem maior do que cabe a um artigo de jornal. O certo, porém, é que parte das acusações atualmente feitas ao Judiciário em geral e ao STF em particular, principalmente as que atribuem aos ministros a intenção de se meter em tudo, decorrem do tratamento desrespeitoso que a Constituição da República Federativa do Brasil tem recebido justamente do Legislativo — que tem o poder de alterar o texto da Carta Magna. Isso mesmo! Nas democracias mais sólidas, a Constituição é tratada com respeito e seriedade e alterá-la é um processo demorado, que demanda meses ou até anos de negociação. O Brasil, infelizmente, não dá a impressão de seguir esse caminho.
O exemplo mais citado quando se toca nesse assunto é o dos Estados Unidos da América. Com apenas sete (isso mesmo, sete!) artigos, sua Constituição se limita a tratar dos aspectos mais gerais da organização política do país. Estabelece a república presidencialista como forma de governo e a divide os poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Unifica e dá caráter nacional aos sistemas monetário e de pesos e medidas. Determina que os estados respeitem os direitos individuais dos cidadãos. Além disso, divide o poder Legislativo federal em duas câmaras — o Senado e a Câmara. Institui a Suprema Corte. Define que o chefe de Estado, que é também o chefe do governo, será eleito por voto indireto pelos delegados de um colégio eleitoral que se reúne a cada quatro anos. Promulgada em 1787 — há 236 anos, portanto —, a Constituição dos Estados Unidos recebeu apenas 27 emendas em toda sua história.
E a Constituição Brasileira? Bem... Com 245 artigos, ela é uma das mais detalhadas do mundo. Promulgada em outubro de 1988, ela tem 35 anos e, nesse período, já recebeu 140 emendas, sendo 128 delas regulares e as outras 12 destinadas apenas a reviver ou esclarecer pontos que não estavam claros no texto. Se orientar por uma carta como essa, que, ao invés de indicar o caminho a ser percorrido, muda de direção a todo instante, não é fácil. Em meio a essa confusão, é claro que os ministros do STF responsáveis pela ordem constitucional do país têm um espaço enorme para interpretar o texto da forma que lhes parecer mais adequada.
DINHEIRO A RODO — Alguém em sã consciência pode acreditar que a isenção do imposto predial sobre templos religiosos possa ser tema constitucional? No Brasil, é! Em que país do mundo a previsão de um piso salarial para certas categorias profissionais é matéria constitucional? No Brasil! Aqui, agentes comunitários de saúde, enfermeiros e outras categorias barulhentas desfrutam dessa regalia! É provável que não haja outro país relevante do mundo que tenha usado a própria Constituição, como fez o Brasil, para dar aos políticos o direito de gastar dinheiro público a rodo em suas campanhas eleitorais... Tudo isso para dizer o seguinte: não são os ministros do STF que, por vontade própria, se metem em assuntos que parecem ir
além de suas atribuições! É a Constituição brasileira que, por ter se tornado abrangente demais, os tornou responsáveis por temas que nem de longe preocupam os integrantes de outras Supremas Cortes do mundo.
Em meio ao hábito recorrente de emendar e remendar a Constituição ao sabor das conveniências de momento, chama atenção a hiperatividade parlamentar do ano passado. Das 128 emendas regulares que a Carta recebeu desde a promulgação, nada menos do que 14 (isso mesmo, 14!) foram aprovadas no ano passado. Isso se deve, conforme os especialistas no assunto, a uma constatação preocupante: a própria
Constituição tem sido utilizada pelos políticos para manter os assuntos de seu interesse — e não da sociedade — a salvo das decisões da Justiça.
Explica-se: entre as atribuições do STF está a de se pronunciar sobre as leis ordinárias e decidir se elas estão de acordo com a Constituição. Se estiveram, tudo bem. Caso não estejam, no entanto, os ministros têm mais do que o poder, a obrigação de torná-las sem efeito.
Se o dispositivo que deu aos deputados e senadores o direito de fazer emendas impositivas no orçamento da União tivesse sido definido por lei ordinária, o STF, com certeza, teria considerado essa anomalia um ato inconstitucional. E proibido essa prática absurda. Acontece, porém, que essa anomalia foi incluída na Constituição e, sendo assim, o STF não tem o que fazer com relação a isso.
Quem, portanto, se incomoda com o excesso de atividade do STF e com a facilidade com que os ministros se metem em assuntos que parecem não ser de sua competência — ao mesmo tempo em que se calam sobre temas sobre os quais deveriam se pronunciar — deve parar para pensar. Será que a culpa é mesmo dos ministros ou de quem faz as leis? Se a conclusão for a de que os responsáveis são os legisladores, a
solução óbvia aponta para a necessidade da sociedade escolher melhor seus representantes.
Isso mesmo! No início e no fim de tudo, a responsabilidade sobre as decisões das autoridades acaba sendo do cidadão. É ele que, bem ou mal, é o maior beneficiário de uma política pública bem executada. Mas é, também, a maior vítima do jeitinho dos políticos que pensam mais nos próprios interesses do que nos de quem os elegeu. É bom pensar nisso.











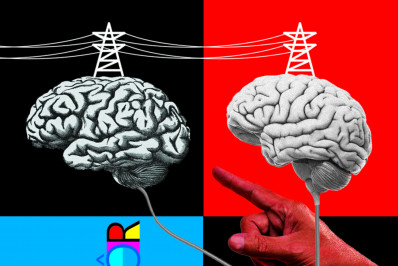






Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.