Wagner Cinelli de Paula Freitasdivulgação
Não, não é uma história inventada. Essas interdições impostas à mulher existiam em muitos lugares e até outro dia. Aliás, algumas ainda ocorrem. A despeito de mudanças havidas, essas marcas da desigualdade de gênero e da subjugação da mulher pelo homem seguem entranhadas na cultura, à qual estamos todos expostos.
Essa fórmula social desequilibrada continua a produzir homens agressivos e mulheres deles dependentes, e, como consequência disso, muita violência, com saldo de vidas infelizes, mulheres agredidas e também vítimas fatais. O tratamento institucional para a violência doméstica contra a mulher tinha na linha de frente a polícia e nem tudo que ali chegava seguia para o Judiciário.
As casas abrigo foram multiplicadas e, ainda que se prestem a um acolhimento temporário, desempenham importante papel na proteção de mulheres e seus dependentes em situação de violência doméstica e familiar. Como estipula a Lei Maria da Penha, a autoridade policial, ao atender mulher nessa situação, tem um rol de providências que deverá tomar, entre elas, “fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida” (art. 11, III).
A juíza Cirlene de Assis, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e coordenadora do Comitê de Monitoramento do Combate e Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (CPVID), em entrevista à TV Anhanguera, destacou que, diante do pequeno número de abrigos, é usual que a vítima que necessita de proteção seja encaminhada para a casa de algum parente. A magistrada, entretanto, pontuou que muitas vezes essa vítima lhe pergunta: “Doutora, mas eu que sou a vítima e eu que tenho que fugir?”.
De fato, afastar vítima e agressor é medida assecuratória importante, pois evita a repetição da violência e até de ocorrências mais graves, como o feminicídio. Porém traz ônus para aquela que já está em situação de fragilidade, ainda mais quando seu acolhimento depende de sua rede pessoal, que muitas vezes não quer se envolver, seja por achar que “briga de marido e mulher” é um problema exclusivo do casal, seja por também temer o agressor.
Depender de acolhimento na casa de amigo ou parente não deve ser a solução para quem necessita estar distante do transgressor. Afinal, é dever do Estado prover assistência à família “criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º, da CF) e a Lei Maria da Penha incentiva a criação e promoção de casas abrigo pelo Poder Executivo em suas três esferas (art. 35, II, da Lei Maria da Penha).
Proteger quem está com a vida em risco é a razão de ser da casa abrigo. Sua ampliação é fundamental na batalha que vítimas fragilizadas são obrigadas a travar com agressores incansáveis. Exatamente por isso a sociedade clama por mais abrigos, de maneira que o conjunto das instituições que devem proteção à mulher possam melhor cumprir suas funções, pois, como já sabido, as mulheres vítimas não devem ficar sozinhas nem perto daqueles que colocam suas vidas em perigo.






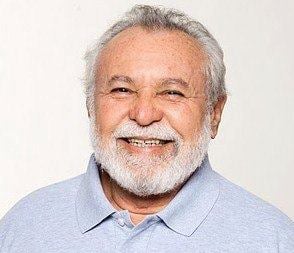





Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.